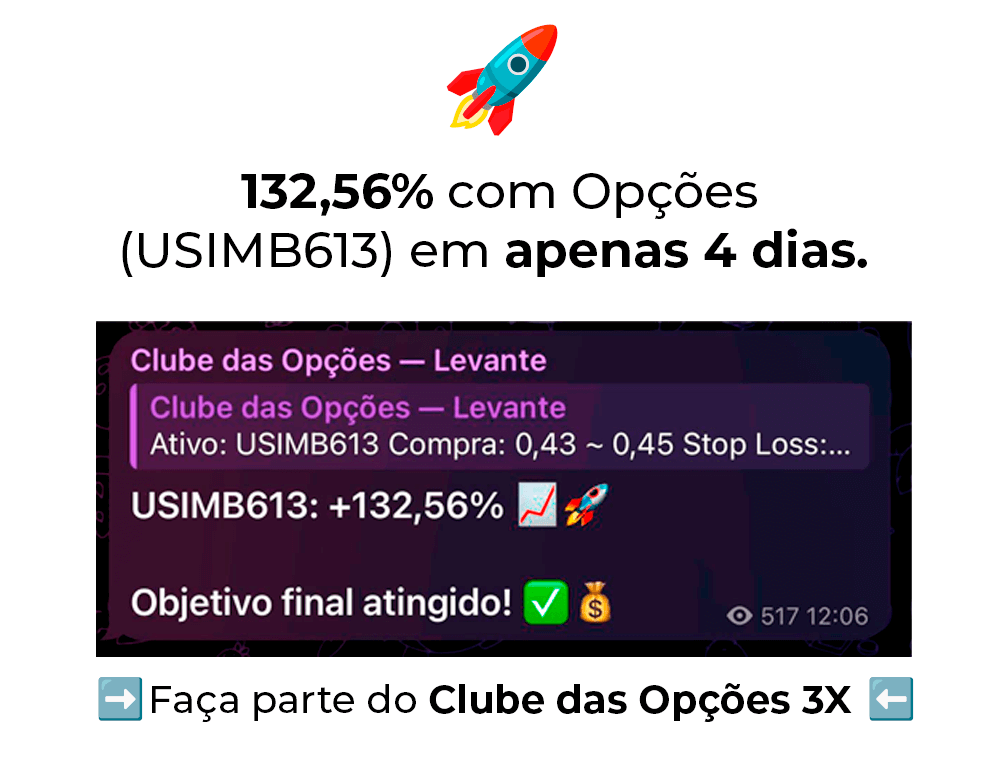O Banco Central, ao definir a nova elevação da Selic em um ponto, para 11,75% ao ano, já indicando novo aumento, da mesma magnitude em maio, com a taxa básica chegando a 12,75%, destacou o objetivo não só de provocar a desinflação mas também de ancorar as expectativas. E essa questão, da ancoragem das expectativas, tem sido um grande problema, pelas incertezas do cenário interno e do externo, mas também pelo próprio posicionamento do BC. Ao contratar o aumento de um ponto dá a impressão de trabalhar com projeções seguras, que permitem definir os passos da política monetária antecipadamente, já sabendo o que vai acontecer até a próxima reunião. Mas não se trata disso. Tanto que o Copom trabalha com cenários diferentes tendo como referência o preço do barril do petróleo na faixa dos US$ 100. E essa é só uma variável na composição da inflação, que já vem com uma difusão forte de aumentos e ainda deve sofrer influência dos preços de outras commodities, até alimentos, fora o desequilíbrio na cadeia de insumos e peças, pela guerra e por novos focos de contágio do coronavírus, especialmente na China. É uma situação que dá margem para especulações e pressões na curva de juros em vários sentidos, que vão depender muito mais das percepções de cenário do que das indicações do Copom. Sendo que o Banco Central muitas vezes tem sancionado as expectativas do mercado e não influenciado essas expectativas.
Mas e em relação ao FED, que elevou os juros em 0,25 e indicou sete aumentos nesse ritmo? Há diferenças importantes. O Banco Central dos Estados Unidos tenta balizar as expectativas, só que já antecipou possível mudança na magnitude dos ajustes dependendo da evolução do cenário. E o FED, diferente também do nosso BC, cuida do controle da inflação, do ritmo de atividade e do desempenho do mercado de trabalho. Aqui a política de juros tem como foco o cumprimento da meta inflacionária. Além disso, o salto dos juros no Brasil já foi muito forte, partindo dos inéditos 2%, sem que tenha tido maior influência na inflação, que caminha para o segundo ano de estouro da meta. Enfim, temos um ciclo de elevação da Selic com impacto contracionista, para tentar derrubar uma inflação que vem, principalmente, da oferta, não da demanda.
É certo que não é fácil para o BC lutar sozinho nesse combate. O governo, preocupado com o estímulo à atividade, continua liberando recursos e cortando tributos, o que vai na contramão da contenção do consumo e do espaço para remarcações de preços, que se tenta garantir com juros mais altos. E essas medidas ampliam o risco fiscal, que também dificulta o controle da inflação. Aí ainda vêm todas as variáveis externas colocando mais lenha na fogueira.
Enfim, continua o jogo de apostas em relação à inflação, juros e crescimento e a tentativa de antecipação de cenários, o que pode produzir mais volatilidade do mercado, independentemente das pressões do noticiário do dia a dia. Juros mais altos são uma certeza, reforçando o ganho das aplicações de renda fixa, mas com a dúvida de até onde podem chegar e qual vai ser a margem real. Dólar e bolsa também dependem do fluxo externo, que pode ser atraído pelos juros elevados e pelos ganhos com commodities, por exemplo, no caso das ações. Porém, se nota uma certa perda de ritmo que pode ter influência das mudanças do cenário externo, o que inclui preços e juros. E vamos lembrar das eleições que também podem deixar os investidores mais ariscos. É nesse contexto que se deve buscar as melhores oportunidades de ganho.