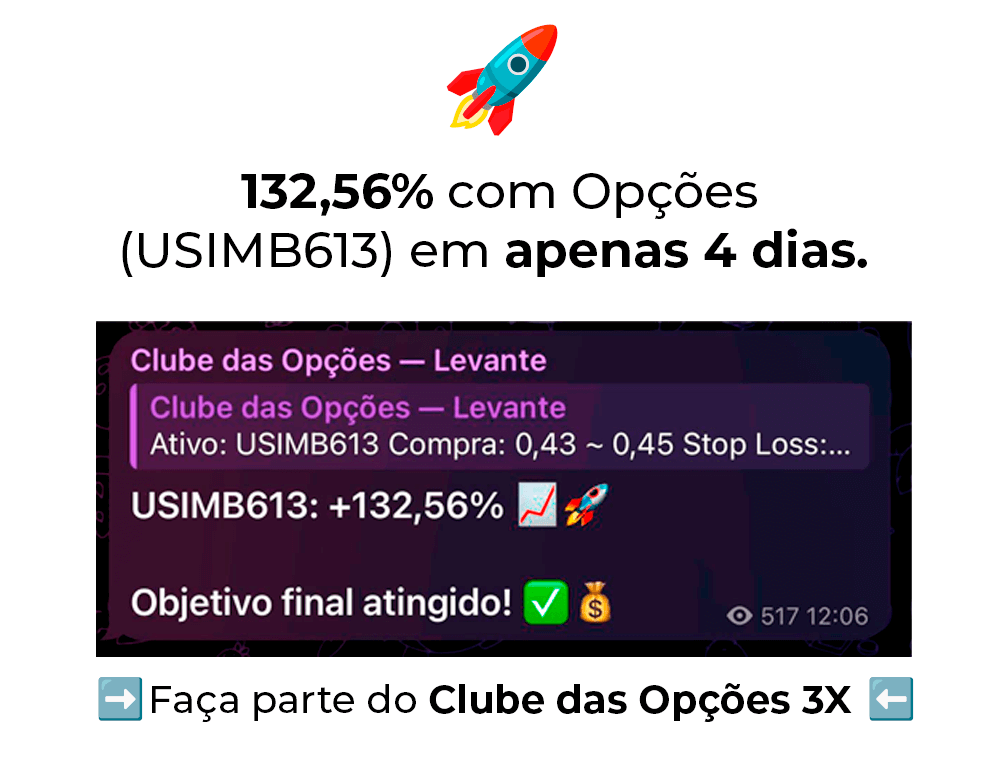Preço estão subindo por distorções na oferta, não por excesso de dinheiro em circulação
Está longe de ser uma novidade que a atuação dos governos para combater a pandemia provocada pelo coronavírus levou à maior expansão monetária global já registrada. Uma conta rápida indica que o balanço do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, subiu de 4 trilhões para mais de 8 trilhões de dólares. Embora menores em termos absolutos, expansões tão significativas foram registradas em países da Europa e da Ásia. Até mesmo a economia chinesa, sempre tão planejada, não resistiu à tentação de injetar renminbis no organismo econômico para combater a anemia dos negócios.
Pelo livro-texto de economia, tanto dinheiro em circulação deveria provocar fenômenos praticamente hiperinflacionários ao redor do mundo. No entanto, a realidade não é essa. Os índices de preço, sim, estão acima da média dos últimos anos. No Brasil, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o mais parecido com uma inflação “oficial” que temos por aqui, está alto, rodando perto de 11 por cento ao ano. Porém, isso não é nada para um país que já conviveu com índices acima de 3 mil por cento ao ano e que, pouco antes do Plano Real, em 1994, comemorava a “estabilidade” de uma inflação de 25 por cento ao mês.
Nos Estados Unidos a inflação ao consumidor, medida pelo Consumer Price Index (CPI) encerrou os 12 meses até outubro em 6,2 por cento, o maior nível desde outubro de 1990. No entanto, o índice que o Fed acompanha, o Personal Consumption Expenditure (PCE) registra uma inflação menos intensa. O número de outubro ainda não foi divulgado, mas a alta em 12 meses até setembro era de 4,4 por cento. Para comparar, nesse período o CPI estava em 5,4 por cento, um ponto percentual acima.
E há mais. O “núcleo” do PCE, que exclui itens como alimentos e combustíveis, cujos preços variam de forma menos previsível, está ainda mais baixo. No 12 meses até setembro, a alta é de 3,6 por cento. E esse percentual não se alterou nos últimos 4 meses. Assim, há boas razões para Jerome Powell, presidente do Fed, defender uma atitude de tolerância e paciência com as peraltices da inflação americana.
A teoria e a prática
Como explicar que a inflação subiu, mas não explodiu, apesar de haver tanto dinheiro a mais em circulação na economia? Para isso, precisamos revisitar brevemente o desenvolvimento da teoria monetária. A primeira inflação da era moderna ocorreu na Alemanha nos anos 1920. Devido à necessidade de pagar enormes reparações após a Primeira Guerra Mundial, o governo da República de Weimar imprimiu dinheiro em quantidades assombrosas sem lastro. Como resultado, o valor do marco alemão perdeu qualquer significado e controle. Houve mais alguns fenômenos hiperinflacionários na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Na Hungria, no fim de 1945, a inflação tornou-se tão incontrolável que os preços dobravam em termos nominais a cada 15 horas.
Claro, esses fenômenos levaram os economistas a formular teorias e a tentar desenvolver regras para definir quando um processo inflacionário – sempre os houve – poderia perder o controle, destruir uma moeda e desarticular a economia de um país. A deficiência, aqui, é que essas teorias foram, em geral, elaboradas até as décadas de 1950, quando os mercados, a forma de as empresas operar e a maneira de as pessoas lidar com seus ganhos, gastos e investimentos era muito diferente. Ou seja, as premissas sobre a inflação foram construídas sobre alicerces teóricos arcaicos.
Quer um exemplo? Durante muito tempo uma “regra de bolso” foi que a inflação “começaria” quando os preços passassem a subir mais de 50 por cento ao mês. Não há dúvidas que 50 por cento ao mês é uma taxa assustadora. Mesmo assim, o Brasil conviveu com esses índices e a economia, mesmo sofrendo muito, não acabou. A explicação para essa “regra de bolso” é prosaica: em um mundo sem calculadoras nem planilhas de computador, uma inflação tão acelerada torna impossível acompanhar os preços de maneira eficiente. Com tecnologia, é possível “sobreviver” a índices tão elevados por mais tempo.
Outra teoria arcaica é a dos agregados monetários. Quando começou a se estruturar a arquitetura financeira atual, que concede ao banco central nacional a obrigação de manter o valor da moeda, o instrumento para isso eram os chamados agregados monetários. Ou seja, a moeda física em circulação mais os depósitos em conta corrente nos bancos, o chamado M1, e seus “irmãos maiores”, que vão incluindo depósitos a prazo, aplicações financeiras e títulos públicos.
Para controlar a inflação à moda antiga, os bancos centrais analisavam o crescimento dos agregados monetários e o dos bens e serviços da economia. Se a quantidade de moeda houvesse crescido mais depressa que a economia real, havia risco de inflação e era necessário desaquecer a economia.
As metas de inflação
Houve uma “revolução copernicana” no início dos anos 1990, quando a Nova Zelândia (sim, é longe) adotou o chamado regime de metas de inflação. Atualmente é um item encontrado no cardápio de todos os banqueiros centrais. Mas, quando surgiu, ninguém entendeu.
A adoção das metas de inflação pode ser encarada como um exercício de humildade intelectual por parte dos banqueiros centrais. Em um ambiente analógico em que havia dinheiro em espécie e cheques escritos em papel e compensados manualmente era mais fácil acompanhar a quantidade de dinheiro em circulação. Com transações internacionais, digitalização de processos e flexibilização dos regimes cambiais, os movimentos dos agregados monetários perderam visibilidade. Assim, a solução foi simplesmente desistir de acompanhar esses números e passar a observar apenas seu efeito.
Em vez de observar a quantidade de moeda para definir se haveria inflação, a saída foi acompanhar a inflação para saber se a quantidade de moeda precisava de uma correção. A posteriori é óbvio. Naquele momento, parecia arriscado. Até um brilhante economista que tinha desistido de uma carreira musical resolver testar uma hipótese.
Alan Greenspan, que presidia o Fed no início dos anos 1990, observou que a informatização e a abertura comercial estavam aumentando muito a produtividade da economia americana. Ou seja, apesar de a quantidade de moeda em circulação estar crescendo mais do que deveria, uma economia mais eficiente poderia transformar esse aumento do dinheiro em mais riqueza, e não em inflação. Greenspan resolveu pagar para ver. E deu certo. Apesar de todos os indicadores monetários clamarem por um aperto nos juros, o Fed manteve a política monetária frouxa por muito tempo, e resolveu as crises inundando o sistema com liquidez. A prosperidade disparou e os preços se comportaram.
Além da produtividade e da abertura, o manancial de dinheiro poderia ser direcionado para muito mais locais. Por isso houve uma “inflação” nos preços dos ativos financeiros e reais – com recordes nos preços dos imóveis e das obras de arte, por exemplo, mas que não chegou aos preços dos bens e serviços do dia a dia.
As causas da inflação são diferentes
Depois dessa aula de história, chegamos ao fim de 2021 com os índices disparando ao redor do mundo e os banqueiros centrais aparentemente indiferentes a isso. A mudança nas condições econômicas mostra que não é tão relevante a pressão inflacionária provocada por uma intensa expansão monetária. A quantidade de dinheiro em circulação cresce e, sim, isso afeta os preços. Mas em situações de oferta e demanda mais ou menos equilibradas, esse excesso de dinheiro tem para onde correr. Por exemplo, ativos reais. Ou investimentos na infraestrutura de países emergentes. Ou investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Em qualquer cenário vale a regra do verso do envelope: se o dinheiro aplicado em títulos públicos rende 1 por cento ao ano (ou zero, ou menos que zero), é mais negócio financiar a construção de uma ponte na África, de um porto na América Latina ou de uma ferrovia no interior da Ásia.
A alta da inflação neste momento é de custos. Decorre do aumento dos preços do petróleo,
que foi provocado por uma restrição na oferta – o velho truque dos oligopólios de atrasar a
retomada da produção para lucrar mais um pouquinho. E também da falta pontual de insumos
como microchips. Assim, por mais que os banqueiros centrais demorem para elevar os juros e
por mais que os governos não tenham presa para desacelerar a impressão de dinheiro e a
expansão fiscal, não serão esses os combustíveis da inflação.
Para não dizer que o cenário é totalmente róseo, porém, há novos riscos no radar. Por
exemplo, o risco demográfico. As populações estão envelhecendo, especialmente nos países
mais ricos. Há cada vez mais robôs e isso é bom – ninguém deveria trabalhar exposto a agentes
químicos –, mas há limites para a automatização das tarefas. Mesmo assim, apesar dos
avanços na automação, a redução de jovens pode apertar a oferta de mão-de-obra, elevando
estruturalmente os salários.
Além disso, há pressões crescentes pela adoção da agenda que se convencionou chamar de
ESG, incluindo as demandas ambientais, de sustentabilidade e de governança corporativa.
Optar pelas alternativas mais sustentáveis não significa fazer as escolhas mais baratas, e itens
como comida, energia e habitação também poderão ficar estruturalmente mais caros. Essas
pressões, e as provocadas pelas distorções na oferta, são os novos vetores da inflação. Que
têm de ser acompanhados com atenção aos detalhes.
–
Abraços,
Equipe Levante