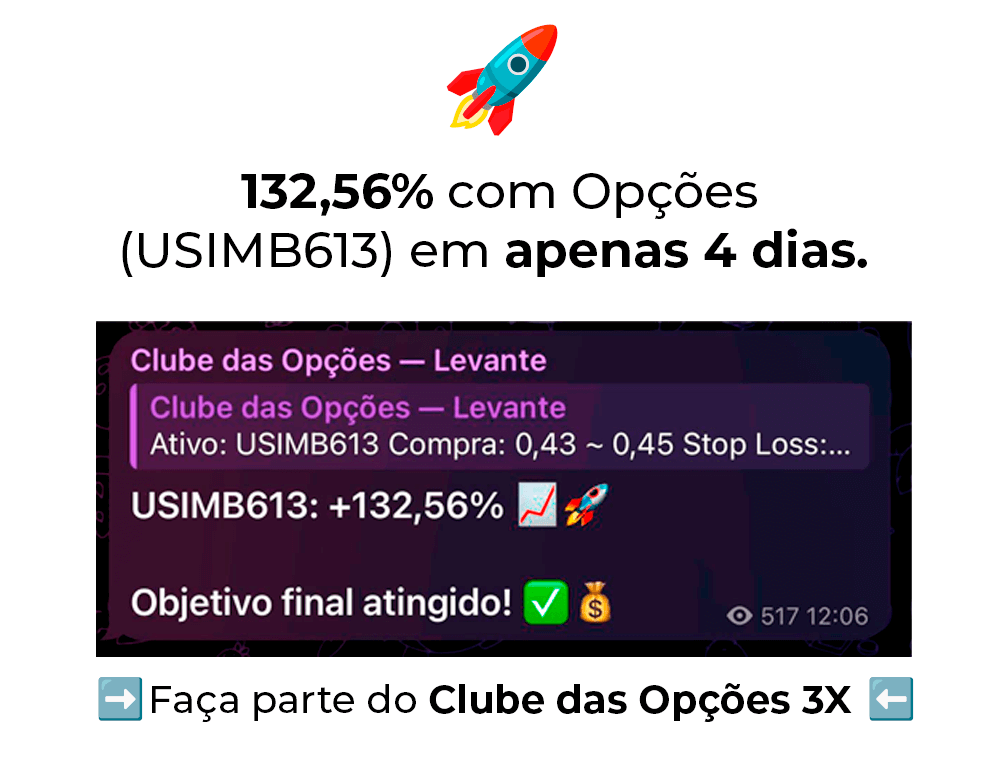No embalo do texto do último fim de semana, a coluna de hoje também abordará, por meio de uma visão mais holística da política brasileira, a relação entre o governo e o Centrão. Como já mencionado aqui várias vezes, as características do regime político-institucional brasileiro, principalmente com o advento da Constituição Federal de 1988, tornam altos os custos de governabilidade do Executivo.
Em suma, entende-se governabilidade como a eficácia de promoção da agenda governamental junto ao Legislativo – campo em que são propostas e discutidas leis e políticas públicas. No caso brasileiro, o ambiente favorável à alta criação de partidos – levando a uma hiperfragmentação do multipartidarismo –, entre outras condições, tornou praticamente impossível que o partido do presidente tenha a maioria das cadeiras na Câmara ou mesmo no Senado.
Evidentemente, ter a maioria nas Casas Legislativas garante o bom andamento da agenda programática de um governo – nos sistemas parlamentaristas, por exemplo, ela é precondição para a escolha do primeiro-ministro, o chefe de governo. Ocorre que, devido aos vários representantes eleitos por diferentes legendas no Brasil, há a necessidade de o Executivo formar uma coalizão muitas vezes heterogênea e pouco alinhada em termos ideológicos.
A literatura especializada sempre apontou o PMDB como o partido-pivô das coalizões de governo: de FHC a Temer, os presidentes que tiveram a sigla como aliada conseguiram maioria no Congresso. Nas últimas eleições, contudo, o desempenho do partido não foi bom e suas bancadas, principalmente a da Câmara, foram reduzidas. Assim, um outro grupo vem tomando o protagonismo como pivô das coalizões majoritárias: o chamado Centrão, que ganhou força desde a eleição de Eduardo Cunha (MDB-RJ) à Presidência da Câmara, em 2015.
Neste grupo, encontram-se partidos como PP, Republicanos (antigo PRB), PL (antigo PR), PTB, Solidariedade, Avante, Patriota, PROS e PSC. No caso do governo Bolsonaro, partidos como o DEM, o PSD e o próprio MDB optam por maior independência frente ao grupo, muitas vezes votando alinhados com ele, mas negando o rótulo.
Já expliquei, em nosso último encontro, os motivos que levaram Bolsonaro a procurar o Centrão e – é claro – os motivos pelos quais esse grupo topou embarcar na base governista do Legislativo. Afinal, se um não quer, dois não fazem. Mas, na prática, dos 513 deputados, com quantos votos o governo pode contar?
Levando-se em consideração a alta disciplina partidária do nosso sistema político (os deputados, em sua maioria, votam de acordo com a orientação do partido a que pertencem), é justo colocar uma adesão à base governista de cerca de 85% dos deputados advindos dos partidos do Centrão. Sendo assim, resta-nos analisar quais partidos, efetivamente, toparam consolidar a aliança. Para isso, serão considerados aqueles partidos que receberam, ou devem receber, cargos comissionados na administração pública federal.
Até agora, o PSD, o PL, o PP, o Republicanos e o Avante. Um dos primeiros cargos distribuídos foi a diretoria-geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), arrematado por Fernando Leão, quadro pernambucano filiado ao Avante, por meio de indicação dos líderes do PP. A sigla chefiada pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI) também conquistou a presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com o chefe de gabinete de Ciro sendo, inclusive, Marcelo Lopes da Ponte, o indicado.
Ainda no FNDE, houve a indicação do ex-assessor da liderança do PL na Câmara, o advogado Garigham Amarente Pinto, para a diretoria de Ações Educacionais do Fundo. Já a Fundação Nacional da Saúde (Funasa) ficou com o PSD, partido de Gilberto Kassab, e cargos de relevância da Casa Civil foram preenchidos com indicações do Republicanos, presidido pelo deputado federal Marcos Pereira (SP). O PTB, sigla de Roberto Jefferson, aguarda negociações do governo para indicar aliados para cargos de segundo escalão e terceiro escalão.
A lógica das indicações passa diretamente pela tomada de decisão orçamentária. Quase todos os órgãos acima têm orçamento de peso. Ademais, o controle deles interessa a partidos, principalmente para fins eleitorais (na esperança de que o dinheiro disponível não seja usado para fins escusos e antirrepublicanos). Indicados pelas legendas costumam privilegiar pedidos de deputados ligados ao grupo.
A partir de um simples cálculo com as nossas premissas (85% da soma dos partidos que receberam cargos + bolsonaristas), chegamos ao número de 180 deputados que virtualmente fariam parte da coalizão do governo. O número já afasta, por exemplo, a eventual possibilidade de abertura de impeachment do presidente, já que seriam necessários menos de 172 votos (um terço) contrários à abertura do processo. O montante representa 35% do total de parlamentares da Casa, o que também garante uma boa margem inicial para votações consideradas importantes para o Planalto.
Em decorrência da postura pouco conciliadora do presidente, é improvável que partidos historicamente mais “moderados” e de maior relevância política, como o PSDB, o DEM e o MDB, juntem-se à base que vem sendo formada. Já de olho em 2022, essas siglas não veem uma aproximação com Bolsonaro como proveitosa. Assim, o governo ainda terá de negociar certas pautas “no varejo”, seguindo o modus operandi do primeiro ano do atual mandato. No entanto, como a história nos mostra, ter uma coalizão, ainda que não seja majoritária, confere maior força política ao Executivo. Mas é claro que, de carona com o Centrão, vem o aumento das chances de práticas escusas – tema tão caro ao presidente.
Um abraço,
Felipe Berenguer
[email protected].