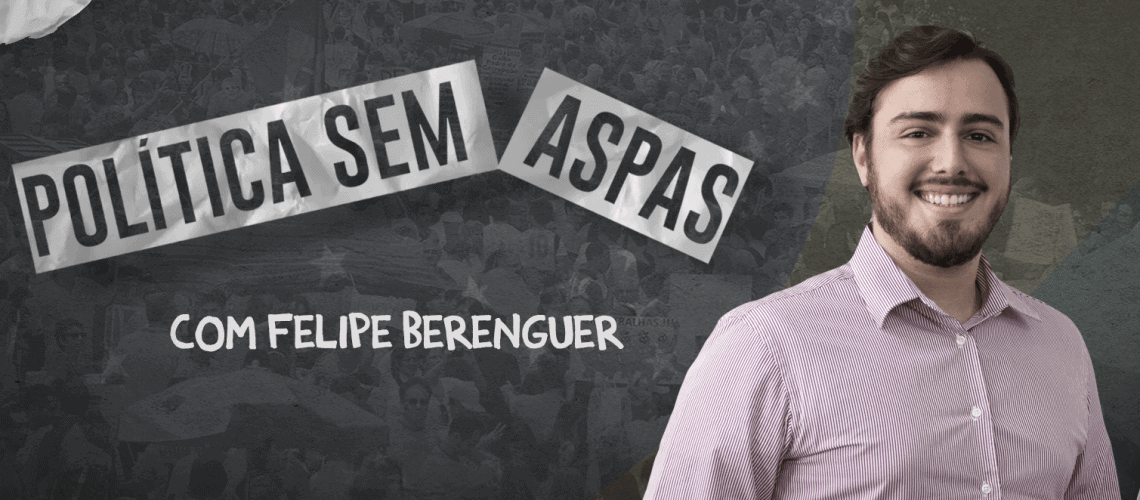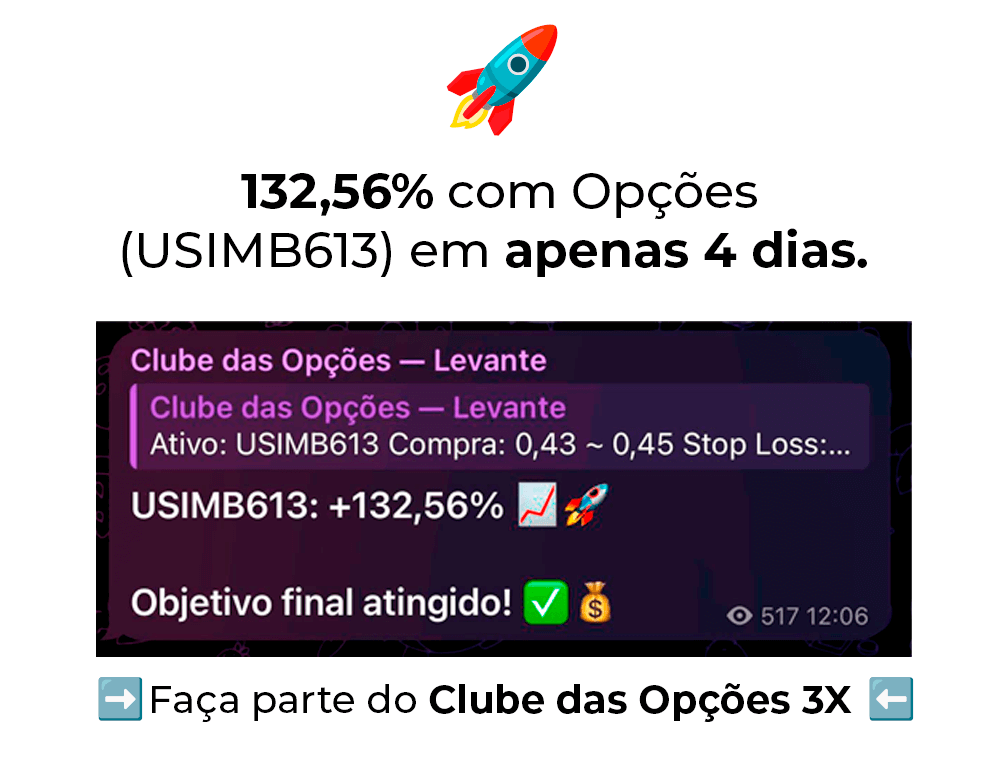A partir da escolha de não formar uma coalizão no Congresso Nacional, o atual Presidente da República buscou romper com o jogo político – ou “toma lá, dá cá” – vigente há décadas no Brasil, mas consagrado principalmente com a Constituição Federal de 1988, a qual acarretou a centralização da tomada de decisão no Presidente, chefe do Executivo, e nos presidentes das Casas Legislativas e líderes partidários e o aumento expressivo de partidos nos últimos 30 anos.
Na ocasião, inúmeros cientistas políticos alertaram as possíveis disfuncionalidades decorrentes dessa estratégia. Alinhado com a literatura com a qual já tenho familiaridade, engrossei o caldo, como analista, daqueles mais céticos quanto à governabilidade do mandato que somente estava começando.
Sob esse ponto de vista, construí diversas análises mais objetivas, caso da tramitação da reforma da Previdência ou mesmo dos embates entre o Legislativo e o Executivo.
Antes mesmo de o governo Bolsonaro começar, fiz questão de explicitar a importância de o presidente ter habilidades políticas elevadas. Dentre elas, duas eram fundamentais: “O pilar da moderação, da articulação pragmática, e o pilar do projeto sólido de governo, da divisão de responsabilidades e atribuições.”
Em maio de 2019, escrevi que o Centrão, gostemos ou não dele, era fundamental para que a reforma previdenciária fosse aprovada: “Se por um lado faltam somente 68 votos (cálculo feito naquele momento) para que o quórum mínimo de aprovação se atinja, por outro fica claro que o governo precisa prestar especial atenção a esse grupo se quiser aprovar um projeto minimamente potente do ponto de vista fiscal.”
No mesmo mês, fiz questão de apontar, de forma crítica, minha opinião sobre a estratégia do governo: “Já faz cinco meses que o diagnóstico político de Bolsonaro e sua equipe está errado. O presidente entende que compactuar ou não com presidencialismo de coalizão seria uma questão de escolha pessoal. Não é. Desde 1988, o presidencialismo de coalizão é o sistema político vigente, e – pasmem vocês – todos os presidentes, de FHC a Lula, jogaram o jogo sob essas regras. Dilma caiu porque era centralizadora e não quis jogar o jogo, entre outros fatores.”
Em junho, a partir de uma discussão mais abstrata, escrevi sobre a nova estratégia do Planalto: “Há limitações ao modelo, mas é muito cedo para classificá-lo como ineficiente – apesar do tímido desempenho da agenda do Executivo no Congresso. O que se pode, tranquilamente, inferir é que pautas importantes já teriam sido aprovadas caso os dois poderes tivessem atuado em maior harmonia.”
Mesmo contrariado, em meados de setembro do ano passado, pontuei que, até aquele momento, o presidente apostava suas fichas em um novo relacionamento entre os dois Poderes – e alguns frutos foram, de fato, colhidos: “Foi dada autonomia para que o Congresso tocasse como quisesse a pauta do governo. Caso o presidente ficasse infeliz com o resultado, poderia usar do recurso de veto presidencial para fazer seus ajustes. Da mesma forma, o Congresso poderia derrubar os vetos que achassem inconvenientes. Esse foi o enredo de qualquer projeto de lei aprovado nestes nove meses.”
Sem nenhuma coalizão e com uma base governista enxuta, a reforma da Previdência tramitou e foi aprovada. É importante destacar que havia, à época, um senso de urgência para tornar o sistema previdenciário brasileiro minimamente sustentável e um Congresso (eleito em 2018) de perfil econômico mais liberal. Ainda assim, os resultados da reforma tinham sido consistentes.
Correndo o risco de ser classificado como pessimista, no mesmo texto explanei minhas preocupações sobre o ritmo com o qual as reformas estavam sendo pautadas no País. Preguei por um “choque liberal urgente”, lembrando que, no caso da reforma da Previdência, as discussões vinham desde o governo Temer e, portanto, uma resolução para o imbróglio demorou três anos. Transcrevo: “Se o ritmo for o mesmo, a tão necessária reforma tributária só sai em 2023, o que seria insuficiente para a retomada mais sólida da nossa economia.”
Após um ano, fiz um balanço do primeiro quarto da gestão Bolsonaro afirmando que o panorama de reformas continuava positivo, em função de algumas variáveis, mas que seria importante que o governo melhorasse sua articulação. Ainda, comentei sobre a importância do primeiro semestre deste ano para avançarmos com a agenda – ainda sem coronavírus, havia uma janela de oportunidades nos primeiros seis meses de 2020, já que o segundo semestre seria mais focado nas eleições municipais.
Se, na ausência do coronavírus, minhas projeções apontavam para somente a aprovação de uma reforma tributária caso houvesse um rápido consenso para iniciar sua tramitação – a reforma administrativa ficando somente para 2021, no mínimo –, com o advento do vírus é seguro dizer, infelizmente, que não teremos grandes avanços reformistas no ano. O que se pode esperar, no máximo, é alguns avanços em pautas menores, como a autonomia do BC ou as três PECs do pacto federativo (Emergencial, Fundos Públicos e o novo pacto).
Em concomitância, seja por acaso, ou não, a esse cenário adverso, o Planalto resolveu mudar a sua estratégia política. Um ano e cinco meses após o início do governo, Bolsonaro parece ter cedido suas convicções pessoais para negociar cargos com outros partidos. Finalmente, o governo percebeu as limitações dessa suposta nova política, após engolir recentes episódios de impopularidade, como as tratativas contra o coronavírus, a demissão de Mandetta e até mesmo a saída de Sérgio Moro.
O estrago do erro de condução no front político não será sentido agora. Ao aderir o jogo do presidencialismo de coalizão, é capaz que o governo se fortaleça no curto prazo. O médio e longo prazo, porém, podem custar caro do ponto de vista político: contrariando suas promessas de campanha, o presidente corre o risco de perder mais uma parte de seu eleitorado fiel, ao mesmo tempo em que precisará mais e mais dos partidos fisiológicos que compõem o tal do Centrão. Nesse contexto, os custos políticos podem ficar cada vez mais caros à sua sobrevivência política.
A aproximação do Executivo com partidos do Congresso se dá por meio de cargos de segundo escalão, ou seja, não envolvem chefias de ministério, mas sim cargos logo abaixo ou importantes posições em autarquias, bancos públicos, secretarias etc. Entre as siglas que devem receber cadeiras, estão o PP, o Avante, o Republicanos, o PSC e o PL, todos partidos com histórico de pouca agenda programática e quase nenhum direcionamento ideológico.
Uma nova dinâmica entre os dois Poderes deve se consolidar até o fim do ano, com a ressalva de que é sempre mais difícil trocar o pneu com o carro andando. O Planalto opta pelo pragmatismo após entender que não há milagre fora da política, após muita insistência no erro. O presidencialismo de coalizão e finalmente Bolsonaro se encontram com algum atraso e com o cenário bem menos favorável do que no início de seu governo.
Um abraço,
Felipe Berenguer
[email protected].